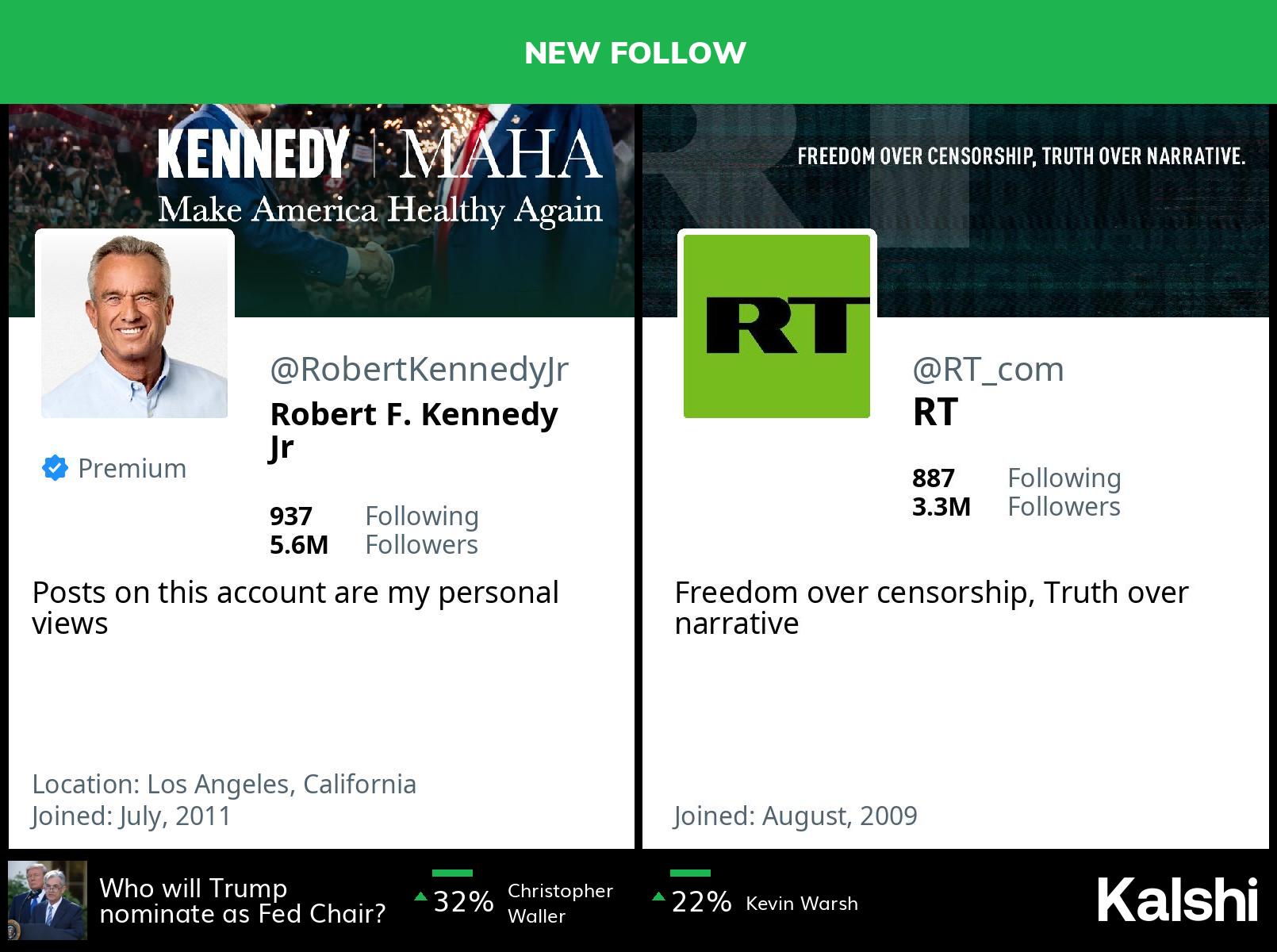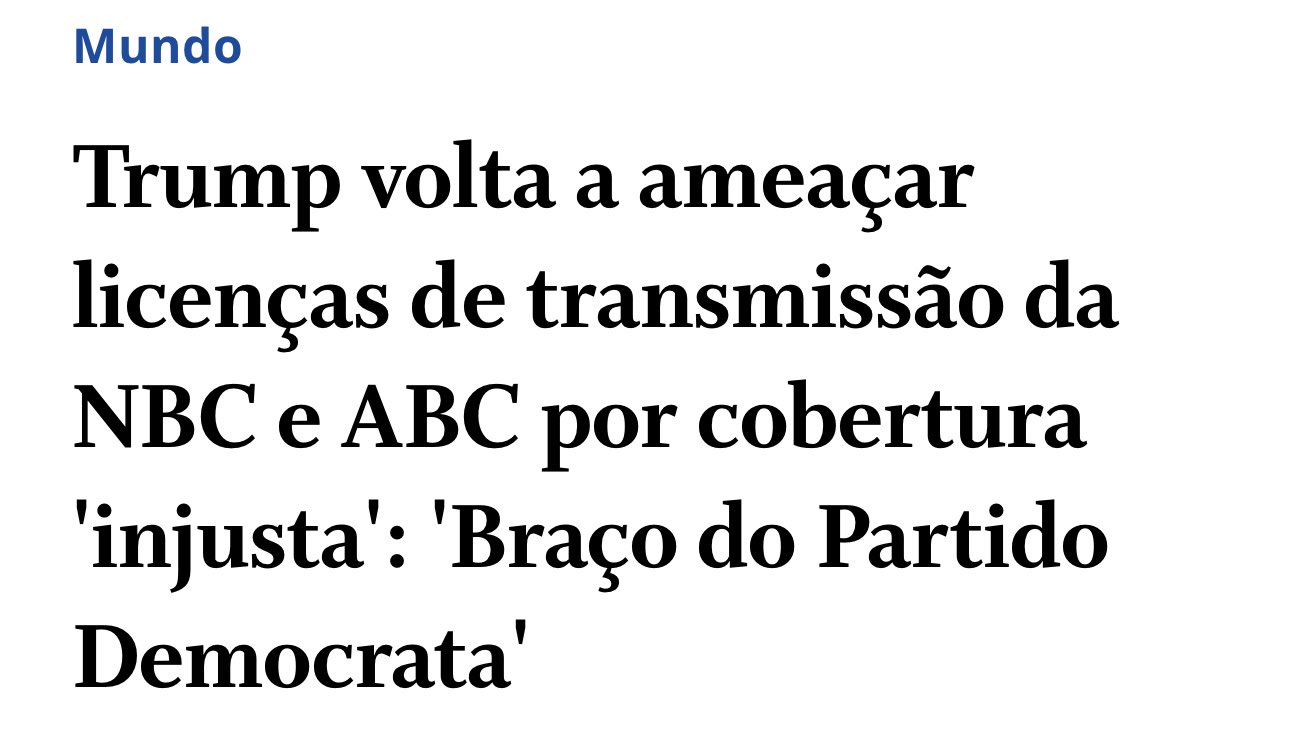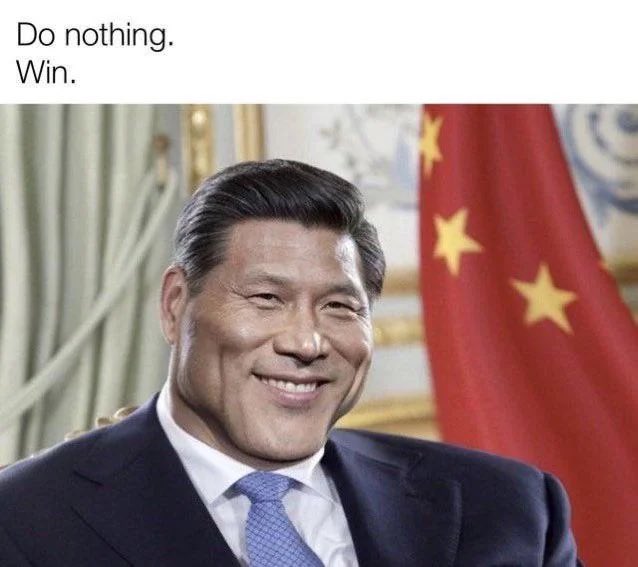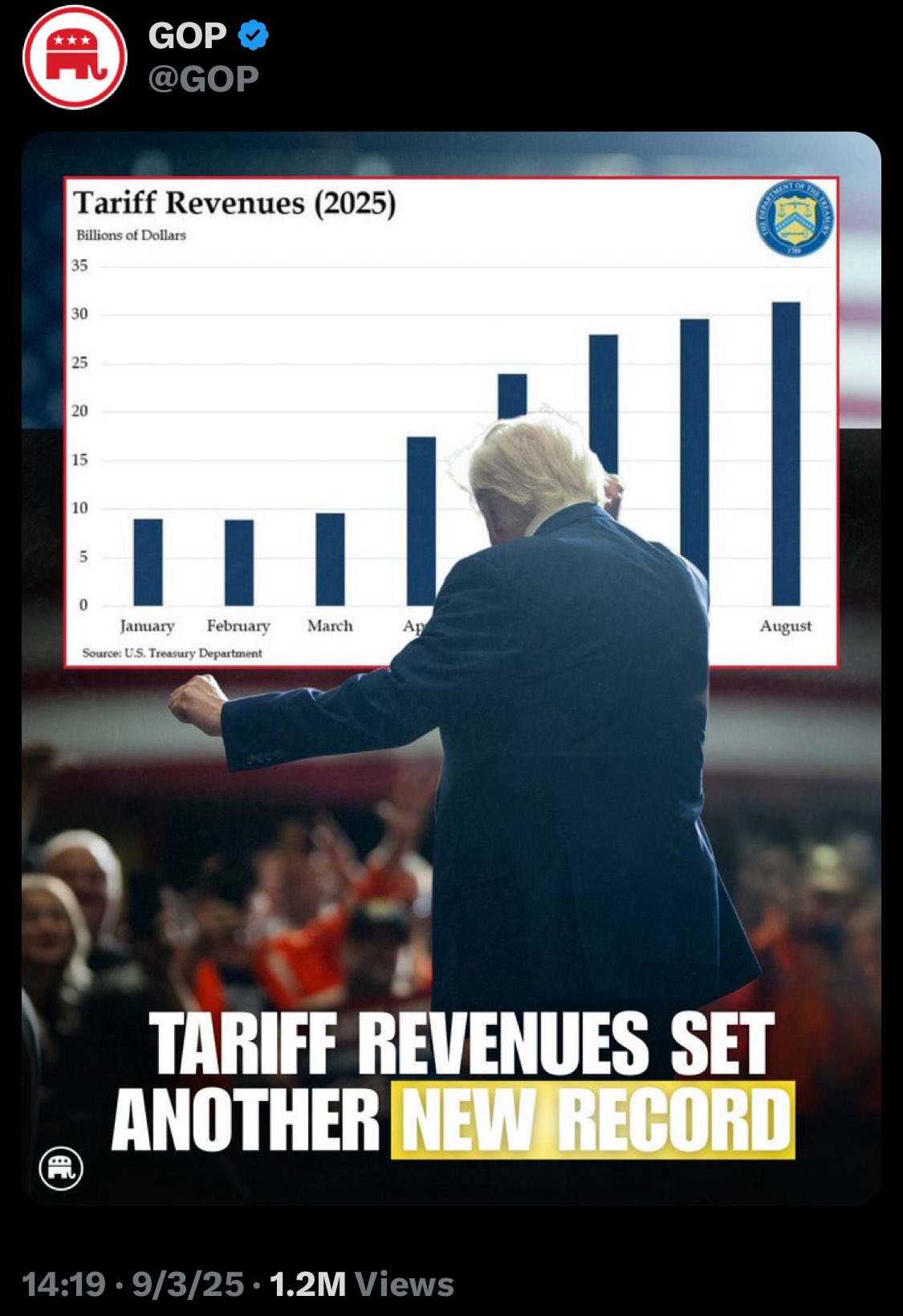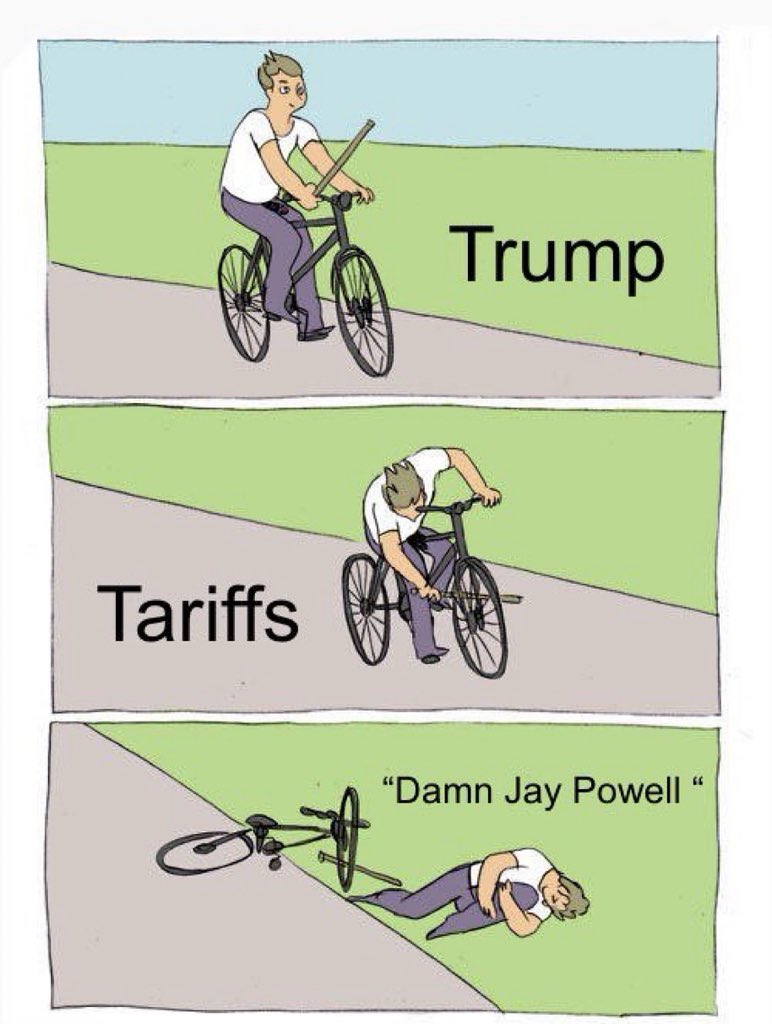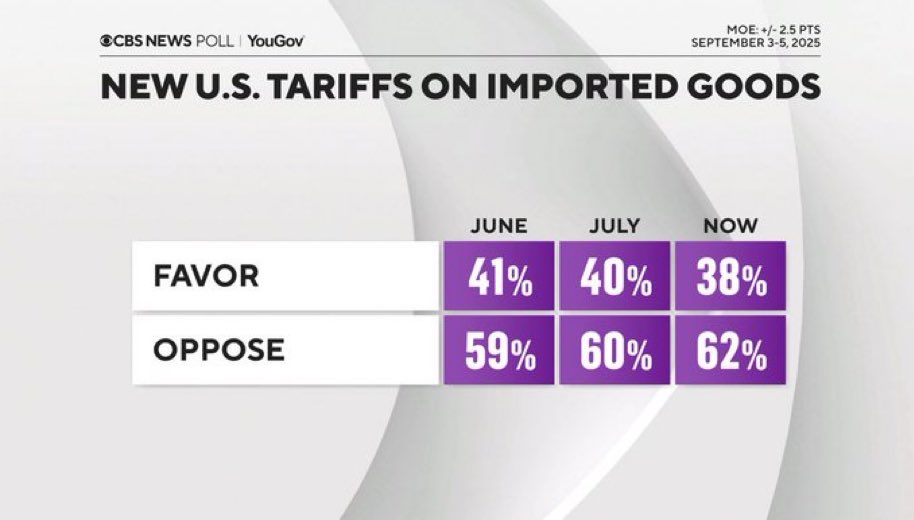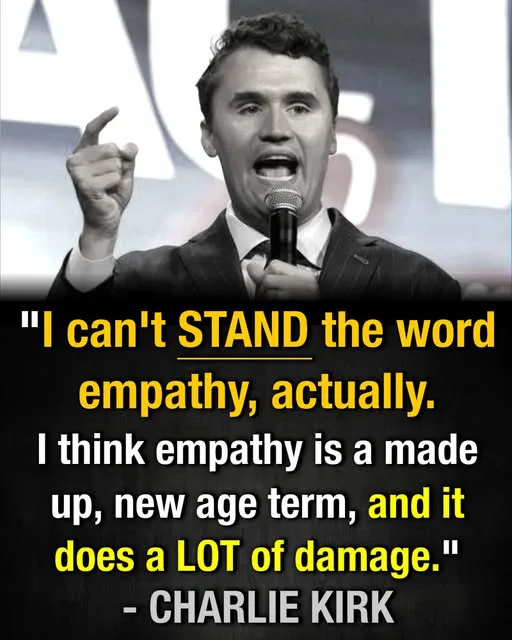Estamos Assistindo a uma Superpotência Científica se Autodestruir
8 de setembro de 2025, 5h02 (horário do leste dos EUA)
Por Stephen Greenblatt
O Sr. Greenblatt é professor de humanidades em Harvard.
O ataque do governo Trump às universidades americanas, cortando bilhões de dólares em apoio federal para pesquisas científicas e médicas, me fez lembrar, em algum lugar no fundo da memória, da frase "abaixe-se e proteja-se". Essas eram palavras incutidas em crianças americanas em idade escolar na década de 1950. Nós as ouvíamos na televisão, onde acompanhavam um desenho animado sobre uma tartaruga sábia chamada Bert, que se recolhia em sua carapaça a qualquer sinal de perigo. Em sala de aula, quando nossos professores davam a ordem, éramos instruídos a seguir o exemplo de Bert, escondendo-nos debaixo de nossas carteiras e cobrindo o pescoço. Essas ações tinham como objetivo nos proteger do ataque nuclear que poderia ocorrer, nos diziam, a qualquer momento. Embora, mesmo no ensino fundamental, a maioria de nós intuísse que havia algo de fútil nessas tentativas de nos proteger da destruição, nós as cumprimos obedientemente. De que outra forma poderíamos lidar com a ansiedade causada pela ameaça?
A ansiedade aumentou consideravelmente em outubro de 1957, quando os americanos souberam do lançamento bem-sucedido do primeiro satélite do mundo, o Sputnik 1, pela União Soviética. A evidência vívida da superioridade tecnológica em foguetes do nosso inimigo da Guerra Fria provocou uma resposta notavelmente rápida. Em 1958, por votação bipartidária, o Congresso aprovou e o presidente Dwight Eisenhower sancionou a Lei de Educação para a Defesa Nacional, uma das intervenções federais mais importantes na educação da história do país. Juntamente com a Fundação Nacional de Ciências e os Institutos Nacionais de Saúde, ela transformou os Estados Unidos na liderança mundial indiscutível em ciência e tecnologia.
Quase 70 anos depois, essa liderança está em perigo. De acordo com o último Nature Index anual, que acompanha instituições de pesquisa por suas contribuições para os principais periódicos científicos, a única instituição americana restante entre as 10 primeiras é Harvard, em segundo lugar, muito atrás da Academia Chinesa de Ciências. As outras são:
Universidade de Ciência e Tecnologia da China
Universidade de Zhejiang
Universidade de Pequim
Universidade da Academia Chinesa de Ciências
Universidade de Tsinghua
Universidade de Nanquim
Sociedade Max Planck da Alemanha
Universidade Jiao Tong de Xangai
Há uma década, a C.A.S. era a única instituição chinesa a figurar entre as 10 primeiras. Agora, oito dos 10 líderes estão na China. Se isso não constitui um momento Sputnik, é difícil imaginar o que seria.
Mas se a resposta dos Estados Unidos à Sputnik refletiu uma nação unida em seu compromisso com a ciência e determinada a investir no potencial intelectual do país, vemos em nossa resposta à China hoje uma América amargamente dividida e desorientada. Atualmente, somos governados por um líder indiferente ao consenso científico se este contradizer seus interesses políticos ou econômicos, hostil aos imigrantes e determinado a prejudicar as universidades de pesquisa que personificam nossa esperança coletiva para o futuro. A ameaça agora está dentro de nós. E com pouquíssimas exceções, os líderes das universidades americanas fizeram pouco mais do que se esconder.
A N.D.E.A. refletiu a percepção generalizada de que algo precisava ser feito nas escolas e universidades além de ensinar os alunos a se esconderem debaixo das carteiras. O país precisava urgentemente de mais físicos, químicos, matemáticos, engenheiros aeroespaciais, engenheiros elétricos, cientistas de materiais e uma série de outros especialistas em áreas STEM, e o governo percebeu que, para obtê-los, seria necessária uma injeção maciça de recursos em escolas e universidades: cerca de US$ 1 bilhão, o equivalente a mais de US$ 11 bilhões hoje.
Desde o início, esse investimento governamental em educação não estava isento de interesses ideológicos. Era alimentado pelo medo — medo dos russos, medo da bomba atômica, medo de ficar para trás na "corrida espacial" — e visava influenciar os currículos. Não, certamente, da maneira catastrófica da União Soviética, onde as teorias genéticas de Trofim Lysenko atrasaram a biologia soviética por décadas, mas sim fortalecendo os departamentos de ciências em todo o país.
Até 1962, os beneficiários da N.D.E.A. Os fundos tinham que assinar uma declaração juramentada afirmando que não apoiavam nenhuma organização que buscasse derrubar o governo dos EUA. Mas, em um daqueles momentos em que a política certa é escolhida pelo motivo errado, os segregacionistas sulistas no Congresso, preocupados com a possibilidade de parte dos fundos ser usada para promover esforços de desagregação, adicionaram uma cláusula estipulando que nenhuma parte da lei permitiria ao governo federal ditar o currículo escolar, a instrução, a administração ou o pessoal.
A lei também desempenhou um papel significativo na diversificação dos campi do país, fornecendo empréstimos a juros baixos para candidatos necessitados, desafiando, incidentalmente, políticas que restringiam a admissão de grupos desfavorecidos, como estudantes judeus, asiáticos, negros, poloneses e italianos. Na metade da minha graduação, no início da década de 1960, Yale teve um novo presidente que rapidamente promoveu muitas mudanças, incluindo o desmantelamento do antigo ethos antissemita e a admissão de mais alunos com sobrenomes que teriam levado à rejeição.
Essas transformações acabaram desempenhando um papel significativo na minha própria carreira. Quando voltei para Yale para fazer minha pós-graduação, a N.D.E.A. financiou meu doutorado. O governo não tinha a ilusão de que estudar Shakespeare fosse uma tarefa impossível. Mas o Título IV da lei, que previa o aumento do número de professores universitários, estendeu o apoio às humanidades, bem como às ciências. A Sputnik acabou me incluindo em sua órbita.
O que começou como um projeto de segurança nacional floresceu como um gerador de curiosidade, criatividade e crítica sem limites. Uma sucessão aparentemente interminável de invenções e descobertas emergiu com o apoio dos laboratórios e institutos de pesquisa das universidades americanas: a internet, a ressonância magnética, o DNA recombinante, as células-tronco embrionárias humanas, a edição genômica CRISPR, as contribuições para a tecnologia de mRNA que tornaram possível uma nova geração de vacinas (inclusive para a Covid-19), e assim por diante, juntamente com avanços históricos em nossa compreensão da matéria e da origem do universo.
O resultado do enorme influxo de dinheiro público foram instituições que não apenas formaram cientistas, pesquisadores médicos e engenheiros de armas, mas também formaram sociólogos, historiadores, filósofos e poetas. A universidade americana é singularmente estruturada para derrubar barreiras entre STEM e outras atividades intelectuais, tanto no currículo de graduação, onde os alunos quase sempre devem cumprir os requisitos de educação geral, quanto na cultura do campus.
As fronteiras tradicionais da pesquisa começaram a cair. Na Universidade da Califórnia, Berkeley, onde fui contratado em 1969 e lecionei por várias décadas empolgantes, um reitor criativo enviou um questionário perguntando aos membros das faculdades de ciências com quem eles mais gostavam de conversar sobre seu trabalho atual. Em vista das respostas, os departamentos foram reorganizados. A inovação floresceu. Os estacionamentos em frente aos prédios de ciências tinham várias vagas reservadas para "N.L.s" — laureados com o Nobel.
Na década de 1990, as universidades americanas haviam se tornado ícones culturais globais — invejadas por sua amplitude intelectual, celebradas por sua liberdade acadêmica e avidamente procuradas por estudantes internacionais que as viam como o ápice da investigação aberta e do prestígio. O governo não pretendia criar instituições de conhecimento autônomas e cosmopolitas, mas a escala de seu investimento — e o relativo isolamento das universidades do controle político direto — ajudaram a transformar essas instituições em conquistas civilizacionais supremas.
Embriagadas com seu sucesso, as universidades de elite começaram a sonhar que poderiam fazer mais do que ensinar e produzir novos conhecimentos. Eles ansiavam por curar todos os males que afligiam a sociedade: retificar as injustiças do passado, sanar os males do presente e promover a igualdade no futuro. Arrebatados por esse sonho, fizeram pouco esforço para persuadir o público de que suas novas políticas eram benéficas.
E agora, apesar de seus triunfos, todo o empreendimento está em sérios apuros. O governo Trump iniciou seu ataque usando as manifestações pró-palestinas em muitos campi para acusar universidades de elite de antissemitismo. A justificativa mudou amplamente para reclamações sobre ações afirmativas, iniciativas de diversidade, viés liberal e afins. A pesquisa científica foi restringida; bolsas de pós-doutorado foram abruptamente canceladas; laboratórios foram fechados e vistos negados. Os danos ao empreendimento científico se estendem além de nossas fronteiras, seja pelo cancelamento de quase US$ 500 milhões em financiamento para pesquisa de mRNA sob o secretário de saúde, Robert F. Kennedy Jr. — uma espécie de Lysenko light — ou pelo expurgo de dados dos quais pesquisadores climáticos em todo o mundo dependem. Nunca saberemos quais doenças poderiam ter sido curadas ou quais avanços tecnológicos poderiam ter sido inventados se as luzes não tivessem se apagado nos laboratórios.
Várias universidades já pagaram multas exorbitantes na esperança de restaurar pelo menos algum apoio federal. Mas essa restauração não é garantida; O governo frequentemente o condicionou a exigências que se intrometem precisamente em áreas da vida universitária — currículo, ensino, administração, pessoal — que a N.D.E.A. proibia o governo de abordar.
Se o governo Trump se contentar com multas únicas, as universidades, castigadas pelas ameaças dos últimos meses, ainda poderão se recuperar. Mas se, como parece perfeitamente possível, o governo estiver determinado a remodelar a vida intelectual e os valores de professores e alunos, essa recuperação será impossível.
Por que diabos abandonaríamos instituições que genuinamente tornaram os Estados Unidos grandes? Por que desperdiçaríamos a admiração mundial por esta nossa magnífica conquista? Por que colocaríamos em risco laboratórios que trabalham para curar cânceres, aperfeiçoar membros artificiais, explorar o espaço profundo ou testar os limites da inteligência artificial?
Nossa situação não é mais desesperadora agora do que era em 1957. Os Estados Unidos ganharam muitos Prêmios Nobel — muito mais do que qualquer outro país, incluindo a China — não apenas por causa do financiamento generoso, mas também por causa de uma cultura intelectual que incentiva e recompensa a inovação e a tomada de riscos, e porque atraímos pesquisadores talentosos do mundo todo.
Por enquanto, as universidades americanas ainda têm a enorme vantagem de seus recursos, sua autonomia e sua alegre liberdade imaginativa. Ando pelo Harvard Yard a caminho de dar uma aula para calouros sobre grandes livros, de Homero a Joyce, e fico continuamente impressionado com o que vejo e com quem encontro. Há estudantes do mundo todo — da Mongólia, bem como da minha cidade natal, Newton, Massachusetts, de Atenas, em Ohio, e Atenas, na Grécia — e há colegas que se dedicaram a uma ampla gama de atividades, desde a criação da primeira imagem de um buraco negro no espaço até a decifração das palavras em um pedaço de papiro antigo. Precisamos sair de debaixo de nossas mesas e persuadir nossos concidadãos de que as instituições que eles ajudaram a criar com o dinheiro de seus impostos são incrivelmente preciosas e importantes.
Stephen Greenblatt é o autor, mais recentemente, de "Dark Renaissance: The Dangerous Times and Fatal Genius of Shakespeare’s Greatest Rival".
O Times se compromete a publicar uma variedade de cartas ao editor. Gostaríamos de saber sua opinião sobre este ou qualquer um de nossos artigos. Aqui estão algumas dicas. E aqui está nosso e-mail:
letters@nytimes.com.
Siga a seção de opinião do New York Times no Facebook, Instagram, TikTok, Bluesky, WhatsApp e Threads.